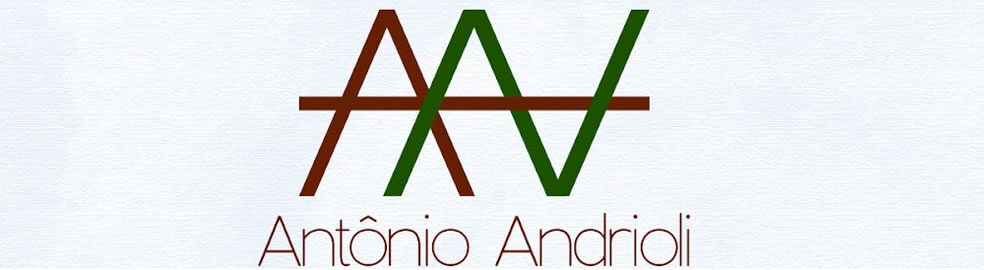Todos podemos ser filósofos
No senso comum seguidamente verificamos um conjunto de imprecisões sobre o significado da Filosofia para a humanidade e uma significativa parcela da população continua se referindo pejorativamente a esse termo. É evidente que não podemos, e nem bastaria, apresentar um conceito único e abrangente o suficiente e reproduzi-lo para que, então, mais pessoas pudessem ter acesso ao seu significado.
Aliás, se o que entendemos por filosofia é o suficiente para considerá-la definida, provavelmente já estaremos deixando de filosofar, pois, como processo de reflexão livre, plural e contraditório acerca do próprio conhecimento humano, a atitude filosófica não pode se declarar satisfeita com o que “des-cobriu”. Pelo contrário, o filósofo, como “amante da sabedoria”, reconhece sua limitação e constantemente admira o “não-conhecido”, inscrevendo-se na difícil tarefa de rigorosamente construir conhecimento a partir da realidade “des-conhecida”. O filósofo Husserl traz uma importante contribuição nesse aspecto: “O que pretendo sob o título de filosofia, como fim e campo das minhas elaborações, sei-o, naturalmente. E contudo não o sei… Qual o pensador para quem, na sua vida de filósofo, a filosofia deixou de ser um enigma?… Só os pensadores secundários que, na verdade, não se podem chamar filósofos, estão contentes com as suas definições” [1] .
No entanto, o que mais impressiona, além da utilização equivocada e a dificuldade de definição conceitual, é a discussão sobre a utilidade da filosofia. Assim, o que mais se pergunta não é sobre “o que é filosofia” mas sim “para que filosofia?”, como se as duas perguntas não estivessem já imbricadas e manifestassem uma mesma preocupação original. Ou será que é possível responder o “para que” de algo que não me atrevo a dizer “o que é?”
Essa acentuada preocupação com a utilidade da filosofia parece estar ligada à forma como é concebido o conhecimento na sociedade capitalista, ou seja, somente vale a pena conhecer o que estiver imediatamente “servindo para algo”, o que, em última instância é definido pelo mercado. Além disso, a filosofia também aparece como algo tão estranho à maioria da população porque sua presença tem sido historicamente elitizada e, evidentemente, houve todo um interesse para que isso assim continuasse.
A professora Marilena Chauí em seu livro Convite à Filosofia, questiona o fato das pessoas perguntarem pela utilidade da filosofia, visto que dificilmente alguém ousa perguntar, por exemplo, “para que matemática” ou “para que biologia” ou para que servem outras áreas do conhecimento. Segundo a autora, “o trabalho das ciências pressupõe, como condição, o trabalho da Filosofia, mesmo que o cientista não seja filósofo. No entanto, como apenas os cientistas e filósofos sabem disso, o senso comum continua afirmando que a Filosofia não serve para nada. Para dar alguma utilidade à Filosofia, muitos consideram que, de fato, a Filosofia não serviria para nada, se ‘servir’ fosse entendido como a possibilidade de fazer usos técnicos dos produtos filosóficos ou dar-lhes utilidade econômica, obtendo lucros com eles; consideram também que a Filosofia nada teria a ver com a ciência e a técnica (…) Verdade, pensamento, procedimentos especiais para conhecer fatos, relação entre teoria e prática, correção e acúmulo de saberes: tudo isso não é ciência, são questões filosóficas. O cientista parte delas como já respondidas, mas é a Filosofia quem as formula e busca respostas para elas” [2] .
É claro que existe toda uma história de construção de concepções teóricas que reforçam o senso comum quanto à noção de utilidade. Um dos aspectos mais fortes dessa afirmação contundente de utilidade do conhecimento, é o positivismo das ciências exatas que, sobrevalorizando a experimentação para instrumentalizar a produção, passou a desconsiderar por completo as atividades tipicamente especulativas. Em contraposição à delimitação conceitual de utilidade, como sendo apenas decorrência do que é meramente instrumental e adaptado à lógica produtivista do capitalismo, Marilena Chauí é, em nosso entendimento, quem de forma mais explícita se posiciona: “Qual seria, então, a utilidade da Filosofia? Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; se não se deixar guiar pela submissão às idéias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil; se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil; se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil; se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes” [3] .
Se a Filosofia é útil, nos termos colocados acima, nos parece evidente que a sua presença é fundamental em qualquer área do conhecimento. Porém, como se dará essa relação da filosofia, com as diferentes áreas do conhecimento? Essa é a questão mais pertinente ao tema que abordamos nesse texto e esperamos tratar dela durante toda essa elaboração.
A Filosofia deve ser exercida necessariamente por filósofos? Essa pergunta remete a uma outra: “quem são os filósofos?” No decorrer da história da humanidade os filósofos são vistos como sujeitos isolados do mundo e que realizam a atividade básica da elaboração teórica. Muitos mitos existem em torno da “figura do filósofo”, como se esse fosse predestinado e contasse com a superioridade intelectual da espécie em si mesmo. Estudando a história da filosofia, Sócrates, filósofo grego, foi considerado o homem mais sábio de seu tempo e ele, paradoxalmente, afirmava: “tudo o que sei é que nada sei”. Ou seja, o filósofo não é aquele que sabe, mas o que tem consciência de seu “não-saber” e por isso “procura saber”.
Podemos afirmar, em síntese, que o filósofo é aquele que quer saber. Mas saber o quê? Sobre tudo. E isso é possível? É claro que não podemos saber de tudo, mas em cada área do conhecimento podemos fazer filosofia e, ao fazê-la, estaremos reconstruindo o conhecimento como um todo, não mais fragmentado da forma como a ciência moderna o tem condicionado através da especialização. “O especialista é aquele que se dedicou, a vida toda, a conhecer cada vez mais sobre cada vez menos e que, finalmente, ficou sabendo quase tudo sobre quase nada” [4] .
O que podemos dizer rapidamente sobre esse aspecto é que o movimento teórico da filosofia é contrário ao da especialização científica. Ou seja, a função do filósofo na ciência, conforme Samuel Branco, “é recuperar a dimensão humana do conhecimento, inserindo os diversos saberes num contexto global. (…) Hoje em dia, em tempos de rápida mudança dos saberes e das técnicas, mais do que nunca o especialista precisa sair de seu mundo fechado, abrindo-se para a interdisciplinaridade” [5] .
Como a Filosofia não é um conhecimento em específico, mas uma reflexão radical em torno de tudo que é possível conhecer, seria estranha a atividade de um “especialista em Filosofia”. Isso não impede que existam filósofos especializados em determinadas temáticas próprias da filosofia, como ética, história da filosofia, epistemologia, etc. Mas, o que queremos enfatizar é que, para ser filósofo, não há um conteúdo de domínio restrito que determine sua condição, ao contrário do que muitas vezes é difundido no senso comum.
Todas as pessoas que querem saber e se dispõem a refletir questões filosóficas, em qualquer área do conhecimento, são filósofas. “Qualquer cientista, em certo momento de seu trabalho, pode parar para refletir sobre questões propriamente filosóficas” [6] . O filósofo italiano Antônio Gramsci, apresentava de forma muito clara a constatação de que, embora existam graus diferenciados, todos podem ser intelectuais: “Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais” [7] . E, em nota de rodapé, Gramsci acrescenta: “Do mesmo modo, o fato de que alguém possa em determinado momento fritar dois ovos ou costurar um buraco do paletó não quer dizer que todo mundo seja cozinheiro ou alfaiate” [8] .
É importante destacar, no entanto, que o fato de que todos podemos ser filósofos, não pode ser entendido, de forma alguma, que todo o conhecimento é filosófico. O professor Paulo Schneider cita Bertrand Russel ao explicar o que é filosofia: “A filosofia origina-se de uma tentativa obstinada de atingir o conhecimento real. Aquilo que passa por conhecimento, na vida comum, padece de três defeitos: é convencido, incerto, e em si mesmo contraditório. O primeiro passo rumo à filosofia consiste em nos tornarmos conscientes de tais defeitos, não a fim de repousar, satisfeitos, no ceticismo indolente, mas para substituí-lo por uma aperfeiçoada espécie de conhecimento que será experimental, preciso e autoconsciente. Naturalmente desejamos atribuir outra qualidade ao nosso conhecimento: a compreensão. Desejamos que a área do nosso conhecimento seja a mais ampla possível” [9] .
Portanto, filosofar pressupõe uma rigorosidade que lhe é própria, de caráter especulativo, investigando os pressupostos, limites e potencialidades de todo o conhecimento humano. Essa forma de trabalhar com o saber pressupõe um olhar crítico e questionador da realidade, o que implica uma abertura ao novo e uma reconstrução a partir da tradição. “A sabedoria não se conquista como uma coisa que se quis e que agora poderia ser mantida e manipulada indefinidamente, pois quando se pára de querer saber, não se sabe mais. Quando pretensamente se alcança o saber, não se sabe mais” [10] .
Após o exposto, voltamos a enfatizar a possibilidade de todos sermos filósofos, o que se coloca como condição necessária da atividade construtora do conhecimento, independente da área científica a que estejamos nos referindo. Na universidade, espaço privilegiado para o diálogo dos diferentes saberes, o filósofo de cada área do conhecimento é o sujeito que concretiza a atividade científica, gerando novos significados de totalidade para a humanidade.
O profissional da informática, ao invés de se inscrever de maneira fragmentada na produção do conhecimento, entendemos que deva se colocar também na condição de interlocutor das diversas ciências, tratando seu objeto de estudo de forma ampliada com o conjunto do conhecimento científico da atualidade e suas repercussões para a humanidade. O desafio aqui é ser filósofo a partir da informática e desenvolver a tecnologia em função da necessidade humana de exercer a comunicação, o que permite tanto o avanço da informática como da própria filosofia, não como instâncias separadas, mas relacionadas em favor da emancipação humana.
Filosofia e técnica: um conflito histórico.
A divisão entre conhecimento filosófico e conhecimento técnico é bastante antiga. Desde o início da filosofia, com os gregos, a sobrevalorização da atividade intelectual e especulativa se dá em detrimento da importância do trabalho produtivo, da atividade prática do homem. Os filósofos se dedicavam exclusivamente à contemplação, ao debate de idéias e desprezavam o envolvimento prático com o mundo, que era função delegada aos escravos. Aristóteles foi explícito quanto a isso em sua obra A política: “aquele que pode antever, pela inteligência, as coisas, é senhor e mestre por natureza; e aquele que com a força do corpo é capaz de executá-las é por natureza escravo” [11] .
A técnica é inicialmente considerada como habilidade humana de interagir com a natureza e confunde-se com a arte, em seu sentido original, onde ambas estão submetidas a um conjunto de regras que lhe são características. A origem do termo provém do latim ars e do grego techne. “O sentido desse termo coincide com o sentido geral de arte: compreende qualquer conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer” [12] .
O significado do termo originalmente também coincide com ciência como “qualquer processo ou operação capazes de produzir um efeito qualquer” [13] . Esta definição conduz ao entendimento de técnica como profissionalização, preparação para um ofício o que, para os homens livres da Grécia Antiga, como vimos, era algo desprezível. “O termo ‘techne’ significa habilidade, arte, maestria, e expressa a constituição do sentido e da razão de ser da própria existência do homem. Ao mesmo tempo, este termo inicialmente fixa o sentido do processo de profissionalização da atividade do homem, bem como o seu resultado em forma de objeto material” [14] .
A separação entre trabalho manual e trabalho intelectual permanece, de certa forma, até hoje, e serve à lógica funcionalista da sociedade capitalista, através da divisão social do trabalho, assumindo um caráter ideológico de manutenção da dominação. Porém, se todos podemos ser filósofos, a divisão entre o saber e o fazer, conforme Gramsci, é impossível, pois ninguém apenas faz ou apenas pensa, de maneira isolada, todos pensamos ao fazermos e praticamos enquanto refletimos: “Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o Homo faber do Homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um ‘filósofo’, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar uma concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras de pensar” [15] .
O desprezo da técnica por parte da filosofia antiga esteve inserido num contexto histórico e passou a ser reproduzido por muitas gerações. Com a Idade Média, novamente a técnica é colocada numa condição subalterna, assim como a ciência, que foi impedida pela instituição religiosa. A dedicação primordial ao cultivo da fé, combinada com a rejeição ao mundo material, impediu o avanço do conhecimento. Atualmente avaliamos isso como um equívoco da humanidade mas, é preciso reconhecer que ainda hoje parte dessa postura de rejeição ao mundo prático ainda continua em nosso meio.
Com o desenvolvimento da técnica, a humanidade conseguiu construir instrumentos que asseguraram sua sobrevivência e permitiram uma maior qualidade de vida. Isso nos parece consensual e, portanto, é muito positiva a emergência da ciência experimental a partir da modernidade. O avanço tecnológico da atualidade permite um conjunto de facilidades que, potencialmente, podem liberar o ser humano de atividades desgastantes e desnecessárias.
Toda a centralidade que, a partir da ciência moderna, tivemos na técnica, nos exige uma distinção desta em relação ao conceito de tecnologia. Este último tem aparecido muito nas discussões científicas e, em nosso entendimento, contribuiu para a construção de uma nova cosmovisão. A tecnologia, segundo Abagnano, é “o estudo dos processos técnicos de determinado ramo da produção industrial ou de vários ramos” [16] . Para Ruy Moreira a “técnica é a habilidade demonstrada pelo homem quando ele realiza uma determinada prática, como a de expor uma idéia, plantar o trigo, manejar um forno, dar uma aula ou tocar o violão” [17] , enquanto tecnologia seria “o conjunto dos princípios que orientam a criação das técnicas de uma civilização” [18] .
Em torno da tecnologia, então, visualizamos a constituição do que alguns autores têm conceituado como cultura técnica: “A unidade da máquina e do pensamento forma a cultura técnica, cuja definição é o conjunto dos valores através dos quais o homem se autocria como ser humano (…) O que nos dificulta a compreensão é que no modo de vida, ao contrário do que acontece no dia-a-dia de uma fábrica ou de uma fazenda, não é na forma do objeto em si que a técnica aparece, mas na da cultura. E a razão é simples. É que a cultura é a vida, uma síntese global de tudo o que é significado para o homem. Motivo porque ela só pode ser apreendida por uma concepção mais abrangente de mundo. Como uma cosmologia” [19] .
Diante da expansão da tecnologia passaram a ser profundamente questionadas as teorias que viam na técnica uma simples aplicação da ciência. O que se constata então, é que, a partir da técnica, da descoberta de um novo instrumento ou uma nova habilidade, também se produz a ciência. Assim, entrou em crise a afirmação de que, necessariamente, a ciência pura é que condiciona a ciência aplicada. A partir de problemas concretos que a humanidade encontra, a pesquisa científica pode iniciar suas experiências e emitir generalizações. Isso não significa abandonar a ciência básica ou pura, mas reconhecer que o conhecimento se articula de diversas maneiras, não estando amarrado a procedimentos estáticos que, até então, eram afirmados como únicos métodos cientificamente válidos para a pesquisa. “Pesquisa é busca de conhecimentos, seja para a solução de problemas imediatos, como a que é patrocinada pelas indústrias modernas, visando aperfeiçoar os seus produtos mediante a introdução de novas alternativas ou até simplificações mecânicas, seja para a simples satisfação do intelecto, ou da curiosidade inata do homem, como são as descobertas astronômicas em geral. O conhecimento cada vez maior do universo que nos cerca é sempre fundamental. Ainda que não vislumbre uma inovação tecnológica, serve para ‘abrir perspectivas’, para reconhecer a nossa situação, o nosso papel e o nosso destino em relação a tudo o que existe” [20] .
Entretanto, percebemos que o predomínio da ciência, positivo em contraposição às crenças, o espontaneismo e a mera especulação acerca da realidade, tem resultado numa absolutização e mistificação dela mesma. Além disso, a cosmologia moderna, surgida a partir da ciência, tem angustiado as pessoas, principalmente em função da exclusão social e a destruição do meio ambiente que vem provocando, a partir do momento em que a cultura técnica deixou de estar centrada no ser humano e se baseia na máquina: “a ciência moderna e contemporânea transforma a técnica em tecnologia, isto é, passa da máquina-utensílio à máquina como instrumento de precisão, que permite conhecimentos mais exatos e novos conhecimentos” [21] .
A centralidade na técnica gerou a idéia de neutralidade da ciência e a crença no progresso técnico ilimitado, constituindo uma poderosa ideologia. Segundo os filósofos da Escola de Frankfurt, a racionalidade ocidental desenvolveu a instrumentalização da razão, levando à ideologização e mitologização da ciência. “A razão instrumental – que os frankfurtianos, como Adorno, Marcuse e Horkheimer também designaram com a expressão da razão iluminista – nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhecer é dominar e controlar a natureza e os seres humanos” [22] . Para Moreira, “a ciência já nasce com o propósito de escravizar a vida moderna à técnica, valorizando a técnica e não a criatividade humana, da qual ela é mera materialização” [23] .
O que estamos afirmando, portanto, é que no período moderno, a técnica é que passou a ser o centro da produção do conhecimento, confundindo-se com a ciência e desprezando a filosofia. A dicotomização continua e agora se concentra no pólo oposto, operando em favor da dominação e impedindo, novamente a emancipação do gênero humano através do conhecimento. A alienação do ser humano pela técnica na sociedade moderna nos insere perfeitamente na lógica da economia capitalista “que valoriza a técnica no lugar do homem, reduzindo a cultura técnica à máquina e subordinando os seres humanos à condição de força de trabalho” [24] . No que se refere especificamente à informática, Paul Virilio afirma que “não compreenderíamos nada, efetivamente, à desregulamentação sistemática da economia mundial sem estabelecer uma correlação com a desregulamentação sistemática da informação” [25] .
O lugar da filosofia diante da formação acadêmico-profissional na universidade
A separação entre trabalho manual e intelectual, como vimos, vem de muito tempo e cumpre uma função social importante de manutenção da divisão de classes na sociedade. Aos filhos das elites é oportunizada a formação humanística e aos trabalhadores é concedido o ensino profissionalizante. “A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um esquema racional: a escola profissional destinava-se às classes instrumentais, ao passo que a clássica destinava-se às classes dominantes e aos intelectuais” [26] .
A lógica de desvalorização da técnica cede lugar à sua supervalorização. Contudo, a “preparação técnica” segue sendo oferecida para os trabalhadores, objetivando sua inserção no mercado de trabalho, já não acessível a todos e, portanto, limitada aos “mais competentes”. A formação humanística, originalmente de “propriedade da aristocracia”, com a sociedade capitalista, passa a ser apresentada como “sem utilidade” para a maioria da população. O senso comum reproduz essa lógica e procura se adequar à “preparação ao trabalho em disputa”.
Essa tradição atinge a educação como um todo e, segundo Marilena Chauí,“entre outros efeitos de nossa confusão estabelecida entre ciência e tecnologia, aceitamos no Brasil, políticas educacionais que profissionalizam os jovens no segundo grau [27] – portanto, antes que tenham podido ter acesso às ciências propriamente ditas – e que destinam poucos recursos públicos às áreas de pesquisa nas universidades, portanto, mantendo os cientistas na mera condição de reprodutores de ciências produzidas em outros países e sociedades” [28] .
A procura pela universidade, em termos gerais, parece que se dá, prioritariamente em função da necessidade de titulação para ingresso no mercado de trabalho e não necessariamente pela busca da competência científica. Isso parece explicar, em parte, a grande procura por universidades e, enfim, pela educação em geral. Com base nessa compreensão, os liberais têm defendido a educação como fator de inclusão social e desenvolvimento econômico. “Em outras palavras, deve-se recorrer à educação, enquanto consciência, verdade e ação, capaz de contribuir para que se reduzam as desigualdades pessoais e regionais de renda” [29] . Conforme José Luís Coraggio, o Banco Mundial “considera o investimento em educação como a melhor forma de aumentar os recursos dos pobres” [30] .
Mesmo que uma universidade procure negar, a sua organização como um todo também passa a ser condicionada pelo mercado, sua lógica e suas demandas. Diante de tal público, que prima pela profissionalização, o conjunto da formação humanística tende a ser concebida como acessória, quando não é tida como “atrapalho”. Entretanto, apesar da expectativa da maioria do público universitário, na sociedade de mercado permanece a “ideologia da competência”, que parece não estar resolvida com a centralidade na técnica.
A “ideologia da competência”, para Marilena Chauí, “é a idéia de que há, na sociedade, os que sabem e os que não sabem, que os primeiros são competentes e têm o direito de mandar e de exercer poderes, enquanto os demais são incompetentes, devendo obedecer e ser mandados. Em resumo, a sociedade deve ser dirigida e comandada pelos que ‘sabem’ e os demais devem executar as tarefas que lhe são ordenadas” [31] .
Essa reflexão sobre o poder implícito do positivismo científico e da “apologia tecnológica”, merece destaque no debate filosófico. Como nos ensina o professor Paulo Schneider, a universidade deve ser socrática, desmascarando “o discurso da manipulação, do adestramento e do absoluto de mestres, sábios e gurus, fazendo com que a verdade seja gestada na concretude de sua lucidez a explodir em inúmeras vozes em argumentação” [32] .
Problematizar criticamente a importância da técnica na sociedade e dos pressupostos da ciência nos parece uma função insubstituível da filosofia na universidade. Mas, pensamos que isso deva ser realizado a partir de cada área do saber, procurando estabelecer a relação entre as especificidades de cada área com o contexto global do conhecimento e da sociedade.
Se a separação entre filosofia e técnica constituiu parte de uma estratégia de dominação, a partir da divisão de classes na sociedade, cabe então defender, na universidade, uma proposta unitária do conhecimento. Aliás, a fragmentação é contrária ao próprio significado de universidade: “a universidade é tempo e lugar de reflexão radical sobre a totalidade do que foi posto como conhecimento prático e teórico na sociedade humana (…) Universal que é por definição, a universidade representa o contraponto ao discurso da fragmentação do saber e da competência especializada somente em minúcias; discurso que, por desistente e incapaz de visualizar o todo, socorre-se da crença no destino, no azar ou nos demônios, quando no conjunto da sociedade não há vislumbre de projeto comum de justiça, paz e liberdade” [33] .
Quando estamos nos referindo a universal não estamos com isso querendo afirmar o fim da diversidade ou da pluralidade. Pelo contrário, indo ao encontro da origem da palavra o termo grego versitas compreende o caráter de versão ou contraposição. O “uni-versal”, portanto só é unidade num processo de oposições. Essa relação unificadora precisa ser resgatada no sentido da filosofia, como racionalidade que não se coloca como junção de saberes, mas como síntese resultante do confronto das diversas versões na história da produção humana e que não está determinada mas, ao contrário, continua de maneira dinâmica.
Também não queremos afirmar que universidade e filosofia são a mesma coisa, mas é tarefa do filósofo, em qualquer área, repetimos, abrir-se para a transdisciplinaridade do conhecimento, através da atividade perguntadora e desmistificadora da razão. A própria discussão acerca do que é uma universidade também cabe à filosofia. “Mesmo que não possamos confundir universidade e filosofia, não podemos abrir mão da sua condição de guardiã da razão, pois somente ela poderá refletir sobre a unidade da razão. Podemos discutir a expressão guardiã da razão, mas antecipadamente afirmamos que não se trata de uma autoridade supra-racional, o que seria contraditório. É no sentido da racionalidade mesma que a empregamos. Da racionalidade ciente de si em sua historicidade” [34] .
Quando nos referimos à formação profissionalizante na universidade, estamos tratando diretamente do trabalho, da produção dos sujeitos que freqüentam os diversos cursos. É claro que nem todos estão empregados mas é evidente que todos trabalham, uma vez que o próprio estudo também é trabalho. O que queremos enfatizar é que, também na universidade é fundamental que estabeleçamos uma relação politécnica sobre o conhecimento, ou seja, que a formação profissionalizante deva ser direcionada à amplitude cada vez maior que o trabalho assume na sociedade.
Assim, ao invés de partirmos de uma formação geral, para posteriormente irmos “especializando” no sentido da fragmentação, entendemos que um especialista, de fato, é aquele que do interior de uma área de conhecimento consegue construir relações com conhecimentos mais amplos e diversificados. Esse é um conhecimento “especial”, pois depende de uma profunda interação de saberes. E, esse fazer especial é atividade não somente de cientista, mas precisamente de filósofo.
Diante da sociedade contemporânea, em que algumas profissões já passam a ser consideradas supérfluas, cabe à universidade estar atenta ao fenômeno da exigência do profissional com domínio de competências múltiplas, não se tratando simplesmente de uma exigência do mercado capitalista, mas de um direito do ser humano como sujeito integral e não fragmentado diante do conhecimento. Paradoxalmente, agora é o próprio capitalismo que passa a exigir essa condição unitária entre conhecimento e trabalho que Marx e Engels propuseram para o socialismo, onde o trabalho e a educação estariam combinados, de tal forma que se asseguraria uma educação politécnica muito variada, bem como uma base prática à educação científica.
Além disso, um profissional é, ao mesmo tempo, um cidadão e é necessário, portanto, oportunizar na universidade o exercício da democracia em todas as suas instâncias. Isso passa, necessariamente, pela discussão do caráter público da universidade e a sua relação com os diversos movimentos e organizações sociais. A universidade como espaço de poder e sua influência na luta política é um eixo temático que pode conduzir à reflexão em torno do envolvimento social dos acadêmicos. Gramsci falava da escola como um todo o que nos parece servir também à universidade: “Tão importante quanto a alfabetização e as primeiras noções científicas que permitem conhecer a natureza de uma maneira não-mágica e não-religiosa, não-folclórica, são as noções sobre ‘direitos e deveres’, que constituem a cidadania, que permitem aos indivíduos das classes subalternas situarem-se ‘na sociedade’ e ‘diante do Estado’. Essa é ‘a função educadora positiva’ da escola. É nesse sentido que a escola é constitutiva da cidadania” [35] .
O acúmulo histórico da filosofia política pode contribuir significativamente com a reflexão da democracia, assim como entendemos que a ética é de muita relevância, principalmente ao tratar da ciência e tecnologia. A implicância ética da pesquisa científica atual, principalmente com a biotecnologia apoiada na engenharia genética, a robótica e a telemática precisam ser discutidas com a mais ampla publicidade crítica e a universidade, como espaço público, deve privilegiar esse debate. Entendemos que a filosofia deve participar centralmente na problematização dessas questões, numa tentativa de quebrar a linearidade como tem sido abordado o conhecimento científico, procurando construir um relativo distanciamento da realidade para permitir uma intervenção mais crítica e qualificada dos universitários nos debates cotidianos.
Para finalizar, entendemos que a filosofia, diante da formação acadêmico profissional na universidade, tem ainda o desafio de refletir radicalmente o significado do conhecimento, da cultura humana e, em especial, da ciência. O reconhecimento de que a ciência é apenas uma das linguagens acerca do mundo, possibilita uma formação mais ampliada dos profissionais que, antes de tudo, são seres humanos, produtores de cultura. O aprender a filosofar é tarefa de todos que constróem conhecimento e o domínio de um discurso crítico, além de ser uma exigência para a universidade, é uma característica de humanidade que desenvolvemos ao longo da história, através da linguagem.
O que perguntar a partir da informática?
Para o professor Aloísio Ruedell, o filósofo é o sujeito que se dispõe a perguntar: “Eu parto do conceito de filosofia como uma reflexão radical (que vai às raízes, profunda). E para explicitar melhor este conceito podemos também dizer: filosofia é a atividade de quem pergunta. (Eu sempre digo: o importante na Filosofia é saber fazer perguntas, e não pretender responder a perguntas que não foram feitas ou que não se entende). O que move a pergunta é a vontade de querer saber, saber mais, melhor; de querer chegar às razões, ao fundamento ou às raízes da questão colocada. Quem pergunta quer saber” [36] .
O filósofo quer saber e esta atividade de busca é a filosofia; o filósofo é insatisfeito com o que é apresentado como dado e procura se afastar das aparências para atingir o conhecimento do real. O filósofo “é definido pelo movimento, pela procura, e pela angústia da insatisfação do que é, e, além disso, indica a direção do movimento e do querer” [37] .
A atividade de perguntar implica, ao mesmo tempo, um “pré-saber” e um “não-saber”. O “pré- saber” é o conhecimento necessário para poder perguntar, o mínimo de domínio de um assunto que possibilite a pergunta. O “não-saber” é o motivo da pergunta, pois é pela procura do saber e pela consciência de seu “não-saber” que o filósofo pergunta. Na articulação do “não-saber”, consciente para si mesmo e que carece de superação, com o “pré-saber”, que dá condições à investigação, o filósofo, através da atividade perguntadora, reconstrói o “já-saber”, transformando-o em “novo-saber”. É claro que o “novo-saber” permite uma maior consciência do “não-saber” e outro “pré-saber”, o que qualifica a continuidade do movimento da pesquisa filosófica.
O desafio que anunciamos com esse trabalho é a atividade perguntadora a partir da informática. Após termos refletido a possibilidade de todos sermos filósofos, a necessidade de superarmos criticamente a histórica dicotomia existente entre filosofia e técnica e o lugar da filosofia diante da formação acadêmico-profissional na universidade, entendemos que faz sentido o que propomos.
Em termos gerais, nossa tarefa, como filósofos a partir da informática, é perguntar sobre o seu lugar na sociedade, sua implicação para a humanidade e seu significado dentro da universidade. A pergunta filosófica, contrária à atividade positiva de afirmação do existente, procura olhar criticamente para o existente, construindo uma maneira reflexiva de pensar a realidade, na tentativa de superarmos tanto o senso comum como o positivismo da ciência e da técnica.
A tecnologia, através da cultura técnica, que agora se confunde com a ciência, provocou um conjunto de transformações na sociedade. A informática, em especial, está colocada no centro das principais mudanças que ultimamente vem sendo operadas na construção de tecnologias, principalmente com o advento da microeletrônica. “A aplicação da microeletrônica na informática, através da sua inserção na tecnologia do computador, produziu nesse terreno a grande primeira revolução desse final de século” [38] .
Realmente, com a informatização das telecomunicações, o que originou a telemática e uma nova cultura técnica industrial, incluindo a robótica, resultado da ação do computador com a microeletrônica, além da microbiologia, originária da união entre biotecnologia e computação, ocorreram significativas mudanças no cenário científico atual. Para Manuel Castells, estamos vivendo a era do modelo informacional de desenvolvimento, referindo-se ao novo modo de organização socio-técnica do desenvolvimento [39] .
O efeito das novas tecnologias ainda são pouco discutidos e o que verificamos é uma certa apologia aos avanços acumulados no último período. Muitos têm chamado isso de globalização, em função da possibilidade de intercâmbio informacional de todos os países numa velocidade inimaginável até bem pouco tempo, apresentando seus maiores reflexos na economia. “Processar a informação tornou-se assim um expediente tão simples e rápido, que a velocidade das circulações aumentou enormemente. O efeito imediato foi o processo de globalização do mundo (isto é, a unificação do mundo num só, do ponto de vista econômico, científico e cultural)” [40] .
Para Paul Virilio, um crítico da informática, a economia de mercado é a que mais se beneficia com a “mundialização da informação”. Para ele, “a ‘mundialização do mercado único’ exige a superexposição de toda atividade, a concorrência simultânea das empresas, das sociedades, mas também dos consumidores e, portanto, dos próprios indivíduos, e não mais unicamente de determinadas categorias de ‘populações-alvo’. (…) De fato, a famosa MUNDIALIZAÇÃO exige que todos se observem e se comparem incessantemente” [41] .
O professor João Machado, da PUC-SP, contesta a afirmação de que a globalização é resultante do avanço tecnológico. Em primeiro lugar ele alerta para o uso equivocado do termo “globalização” para designar um fenômeno que, assim como também afirma François Chesnais, ficaria melhor caracterizado com o conceito “mundialização do capital” [42] . Em segundo lugar, o investimento em tecnologia, assim como a produtividade, teriam diminuído ultimamente, se comparados com o período entre a primeira e a segunda guerra mundial. No entanto, o discurso da “globalização” continua, com caráter ideológico, afirmando um incremento de tecnologias na produção para justificar a existência de um “desemprego estrutural” e mascarando seu advento a partir de decisões políticas dos países dominantes:“A atual globalização decorre basicamente da ofensiva conservadora iniciada no fim dos anos 70. Ela é, portanto, filha do neoliberalismo, da desregulamentação. Não é uma decorrência da evolução da tecnologia. A prova disso é que entre as duas guerras mundiais houve aumento das facilidades técnicas para a movimentação internacional de mercadorias e de capitais, mas esta regrediu. (…) É possível argumentar que as novidades técnicas, no campo da informação, por exemplo, facilitam a globalização. Mas isso é apenas parcialmente verdadeiro: esta tecnologia facilita também o controle sobre os capitais, e se fossem outras as condições políticas, poderia ter um impacto muito diferente” [43] .
Para Pierre Lévy, famoso teórico da teoria da informação na atualidade, “a civilização do futuro é a civilização da inteligência coletiva” [44] . Com a expansão da tecnologia, surge o ciberespaço, um meta-meio de comunicação que integra todos os meios de comunicação anteriores. O ciberespaço compreende a inteligência coletiva e a aprendizagem permanente na esfera da humanidade. Segundo Lévy, no último período a aprendizagem coletiva da humanidade foi acelerada com a descoberta de novas mídias e as possibilidades da linguagem: “Nesses últimos quatro séculos o avanço da ciência e da técnica seriam impossíveis sem a comunidade científica. Hoje os instrumentos como a Internet e o Ciberespaço estão propiciando o ingresso de cada vez mais pessoas nessa ‘dança da inteligência coletiva’. (…) O trabalho atual repousa na produção do saber e cada vez mais pessoas passam a ter acesso ao que era privilégio dos sábios. Isso significa uma abertura do espírito humano, onde todas as vozes se fazem ouvir, se integram e levam umas às outras” [45] .
Lévy é muito otimista em relação ao futuro e imagina um novo mundo a partir da influência das tecnologias de informação, com reflexos positivos na economia e na política: “A economia agora é baseada na informação, nas idéias, na criatividade e na inteligência coletiva. Na política estamos marchando lentamente para um governo democrático planetário, provavelmente com o domínio das pessoas que continuarem a inventar e fazer o melhor uso do ciberespaço” [46] . Sobre o caráter possivelmente excludente e angustiante das novas tecnologias, Lévy também é otimista: “Devido a seu aspecto participativo, socializante, descompartimentalizante, emancipador, a inteligência coletiva proposta pela cibercultura constitui um dos melhores remédios para o ritmo desestabilizante, por vezes excludente, da mutação técnica” [47] .
Paul Virilio, contrapõe-se frontalmente a esse otimismo em relação ao ciberespaço. Para ele, “o CIBERMUNDO não é, pois, senão a forma hipertrofiada de um colonialismo cibernético”, sob o domínio dos Estados Unidos. “Toda revolução é um drama, mas a revolução técnica que se anuncia é, sem dúvida, mais que um drama, é uma tragédia do conhecimento, a confusão babeliana dos saberes individuais e coletivos (…) Fruto de uma ilusão ‘tecno-sófica’ contemporânea do fim da guerra fria como ‘fim da História’, a cibernética da rede das redes é menos uma técnica que um sistema – um tecno-sistema de comunicação estratégica que traz consigo o risco sistêmico de uma reação em cadeia de estragos, logo que a mundialização se tornar efetiva. (…) Observa-se que, mais uma vez, a guerra econômica avança mascarada pela promoção da maior liberdade de comunicação” [48] .
A reflexão em torno da problemática anunciada com o avanço das tecnologias de informação é crucial para a informática. O debate pautado nas diversas leituras que estão sendo realizadas sobre o desenvolvimento tecnológico serve muito bem à filosofia em sua intervenção a partir da informática. A consciência crítica acerca dos desafios que o contexto apresenta para os profissionais da informática é necessária para a superação de mitos que se anunciam em função da novidade dos estudos na área da cibernética. A universidade não pode, de forma alguma, se isolar do debate, pelo contrário, deve proporcionar o máximo de espaço argumentativo em torno das polêmicas da atualidade.
A pergunta filosófica começa pelo sentido do próprio curso de informática para a sociedade e seu lugar na produção científica na academia. Essa pergunta está intrinsecamente relacionada ao sentido de toda a formação acadêmico-profissional numa universidade e a forma como dialoga com as demais áreas de saber. Perguntar “o que é informática?”, “como surgiu?”, “quais são seus pressupostos?”, “por que informática na universidade e na sociedade?”, “que relação ela estabelece com o conhecimento, a política, a história, a ética, a cultura humana em geral?” são algumas das referências básicas para filosofar a partir da informática.
Além das perguntas e debates, o trabalho em forma de texto também merece um destaque especial para a atividade filosófica em qualquer curso, mas, principalmente, com aqueles mais centrados na construção de habilidades técnicas, em especial, a informática. A capacidade de expressão do ser humano através da articulação dos argumentos, com clareza e coerência, é decisiva para a formação acadêmica e merece destaque especial com relação ao profissional que trabalha com a informação.
Numa época de amplo acesso à informação cabe ressaltar que precisamos “significá-los” para que sua sistematização opere em forma de conhecimento. Pouco ou nada adianta o mero acesso à informação se não estamos preparados para construir relações de conhecimento e aprendizagem a partir dela. Como nos ensina o professor Mário Osório Marques, precisamos desenvolver a “capacidade de processar e intercambiar informações” [49] , já que na sociedade atual, “o usuário corre o risco de se sufocar no ‘mar de informações’ que existem. Informação é diferente de significado e os indivíduos não podem significar informações que já não tenham na sua experiência. A escola precisa conseguir traduzir concretamente os significados (para que servem) dos conhecimentos de que se ocupa” [50] .
Perguntar a partir da informática não significa apenas refletir os problemas específicos à sua própria área, mas ter neles seu ponto de partida. Ao contrário da maneira fragmentadora do conhecimento, denominada equivocadamente de “especialização”, onde se parte de um conhecimento geral para o mais particular, propomos uma inversão. Ou seja, partimos dos problemas concretos, já experienciados pelos acadêmicos, para construir relações cada mais amplas e complexas. O “perguntar a partir” tem esse significado, entendendo que não se trata de negar o conhecimento existente, muitas vezes em forma de senso comum, mas começar questionando-o para produzir apreensões cada vez mais qualificadas e abrangentes.
* Doutorando em Ciências Sociais na Universidade de Osnabrück – Alemanha
[1] Citado por ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. 2ª. Ed. ver. e atual. São Paulo: Moderna, 1993, p. 71.
[2] CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995, p. 13.
[3] Idem, p. 18.
[4] BRANCO, Samuel Murgel. O saber científico e outros saberes. In: KUPSTAS, Márcia (org.) Ciência e Tecnologia em debate. São Paulo: Moderna, 1998, p. 25.
[5] Idem, p. 26.
[6] Idem, p. 25.
[7] GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Círculo do Livro, p. 10.
[8] Idem.
[9] SCHNEIDER, Paulo Rudi. O que é Filosofia? In: SCHNEIDER, Paulo Rudi (org.) . Introdução à Filosofia. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1995, p. 33.
[10] Idem.
[11] ARISTÓTELES. A Política. Livro I. In: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 144.
[12] ABAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 939.
[13] Idem.
[14] BOUKHARAEVA. Luiza Mansurovna. A Cultura Filosófica da Atividade do Engenheiro. In: SCHNEIDER Paulo Rudi (org.) . Introdução à Filosofia. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1995, p. 58.
[15] GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo, Círculo do Livro, p. 11.
[16] ABAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
[17] MOREIRA, Ruy. .A Técnica, o Homem e a Terceira Revolução Industrial.. In: KUPSTAS, Márcia (org.) Ciência e Tecnologia em debate. São Paulo, Moderna, 1998, p. 34.
[18] Idem.
[19] Idem, p. 34-35.
[20] BRANCO, Samuel Murgel. O saber científico e outros saberes. In: KUPSTAS, Márcia (org.) Ciência e Tecnologia em debate. São Paulo, Moderna, 1998, P. 23.
[21] CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995, p. 284.
[22] CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995, p. 283.
[23] Citado por CHAUÍ. Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995, p. 37.
[24] Idem. P. 35.
[25] VIRILIO, Paul. A Bomba Informática. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação Liberdade, 1999.
[26] GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo, Círculo do Livro, p. 109.
[27] Atual Ensino Médio, conforme a LDB.
[28] CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 1995, P. 285.
[29] MACIEL, Marco. Educação e liberalismo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987, p. 237.
[30] CORAGGIO, José Luis. Propostas do Banco Mundial para a educação: sentido oculto ou problemas de concepção? Tradução de Mônica Corullón. In: TOMMASI, Lívia de, WARDE, Mirian Jorge e HADDAD, Sérgio (organizadores). O Banco Mundial e as Políticas Educacionais. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 1998, p. 86.
[31] CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 1995, P. 281.
[32] SCHNEIDER, Paulo Rudi. Universidade: Reflexão Radical. In: SCHNEIDER Paulo Rudi (org.) . Introdução à Filosofia. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1995, p. 10.
[33] Idem, p. 10,11.
[34] POMMER, Arnildo O que é uma Universidade. In: SCHNEIDER Paulo Rudi (org.) . Introdução à Filosofia. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1995, p. 18.
[35] GRAMSCI, 1968, p. 130; grifos meus. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. p.64.
[36] RUEDELL, Aloísio. Filosofia da Linguagem. Texto preparado para a Semana Acadêmica do Curso de Letras da UNIJUÍ, Campus Santa Rosa, apresentado em 19/05/95, p. 01.
[37] SCHNEIDER, Paulo Rudi. O que é Filosofia? In: SCHNEIDER Paulo Rudi (org.) . Introdução à Filosofia. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1995, p. 33.
[38] MOREIRA, Ruy. .A Técnica, o Homem e a Terceira Revolução Industrial.. In: KUPSTAS, Márcia (org.) Ciência e Tecnologia em debate. São Paulo, Moderna, 1998, p. 45.
[39] CASTELLS, Manuel. La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Volume I, Madrid: Alianza Editorial, 1998.
[40] MOREIRA, Ruy. .A Técnica, o Homem e a Terceira Revolução Industrial.. In: KUPSTAS, Márcia (org.) Ciência e Tecnologia em debate. São Paulo, Moderna, 1998, p. 47.
[41] VIRILIO, Paul. A Bomba Informática. Trad.. Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação Liberdade, 1999, p. 62, 63.
[42] Nos referimos aqui à obra Mundialização do Capital, de François Chesnais, publicada pela Editora Xamã em 1996.
[43] MACHADO, João. Internacionalização do Capital: uma fase perversa. Revista São Paulo em Perspectiva, n.º. 3. São Paulo: 1998, p. 12.
[44] Conforme Conferência: A cibercultura e a nova relação com o saber, de Pierre Levy, realizada em Ijuí- RS, por ocasião do VII Seminário Internacional de Alfabetização e Educação Científica, dia 24/05/2000.
[45] Idem.
[46] LÉVY, Pierre. Ciberespaço como um passo meta evolutivo. Anais do VII Seminário Internacional de Alfabetização e Educação Científica. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2000, p. 139.
[47] LÉVY, Pierre. Cibercultura . 2ª. Ed. , São Paulo: Editora 34, 2000, p. 30.
[48] VIRILIO, Paul. A Bomba Informática. Trad.. Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação Liberdade, 1999, p. 105, 66.
[49] Conforme Conferência: Novos desafios à educação na sociedade informatizada., de Mário Osório Marques no VII Seminário Internacional de Alfabetização e Educação Científica em Ijuí-RS, no dia 24/05/2000.
[50] Idem
——————————————————
Artigo publicado na Revista Espaço Acadêmico. Outubro de 2002